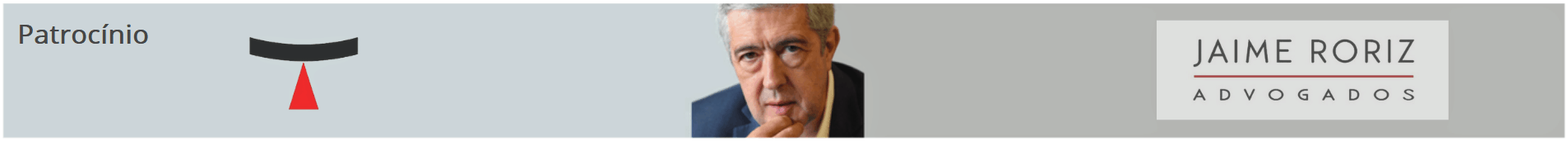texto Gonçalo Falcão
Dado que é impossível condensar numa entrevista uma carreira tão gigantesca e importante, enquanto músico e produtor que marcou a música do século XX, a decisão foi a possível nesta conversa com Bill Laswell: usar o tempo para uma abordagem diferente, a de deixar os assuntos surgirem. Seguir a carreira de Laswell é uma tarefa atlante: é pensar na de John Zorn e multiplicar por 20 o grau de dificuldade.
Encher os pulmões de ar, inspirar: Whitney Houston fez “back vocals” para a sua banda, Material, Mick Jagger pediu-lhe para produzir o seu primeiro disco a solo (e todos os singles que saíram de “She’s the Boss”), Miles Davis convidou-o para remisturar “Pantalassa”, Herbie Hancock chamou-o a produzir “Rockit” (que acabou por ser o seu maior sucesso e por o popularizar até nas pistas de dança), e também o fizeram Ramones, Iggy Pop, David Byrne, Laurie Anderson, PIL, Janet Jackson… A listagem é imensa. Fundou os Massacre com Fred Frith, os Painkiler com John Zorn, Praxis com Bootsy Collins e Bernie Worrell, Golden Palominos com Anton Fier, David Moss, John Zorn, Arto Lindsay, Jamaaladeen Tacuma e Fred Frith, Last Exit com Peter Brotzmann, Sonny Sharrock e Ronald Shannon Jackson. E ainda é preciso falar das suas gravações em Marrocos e África antes do termo “world music” ter sido inventado e de terem alcatroado as estradas para as montanhas de Jajouka, bem como as de hip-hop, drum ’n’ bass, dub… Expirar.
É uma figura gigantesca, com o melhor som de baixo do planeta (a seguir a Jaco Pastorius é provavelmente o baixista com um som mais identificável e particular, ultradenso e profundo), de poucas entrevistas e poucas palavras, com quem tivemos a oportunidade de falar um pouco muito graças ao esforço de Bruno Barreto e Andreia Abreu, incansáveis membros da equipa do Guimarães Jazz. Foi, a 15 de Novembro, um dos participantes no festival do Norte, como membro dos Uplift de Dave Douglas.
Tens uma obra gigantesca, tanto nos teus projectos como em colaborações e em produções, dispersa numa variedade imensa de estilos e contextos. Pareces ter urgência em estar permanentemente a tentar coisas novas e a tocar com músicos diferentes. Revês-te nesta descrição de um “workingman”?
Sim, gosto de estar sempre à procura de coisas novas. E também porque depois de ter feito um grande número de projectos e de músicas, a ideia de colaborar e de conhecer outros músicos entusiasma. Como é o caso aqui, com Dave Douglas, num contexto que me é estranho, mas com o qual quero colaborar. Depois de fazer tantas coisas há que estar disponível para tentar outras novas… ou mesmo coisas antigas. Agora já não há um plano.
Os teus projectos parecem ter duas características que permanecem mesmo quando os contextos são diferentes: a densidade e a intensidade. Desde Painkiller, Praxis e Last Exit a Death Cube K, Material ou Golden Palominos. Achas que esta observação é correcta ou discordas dela?
Bem… é justa se te focares nos projectos mais densos. Esse projectos que listaste são razoavelmente agrestes e dissonantes… Aí concordo. Mas também existem muitas outras coisas que são ambientais, melódicas e calmas. Por isso, se te focares nesse tipo de direcção, sim, concordo, é denso, violento, inquietante, por vezes; mas há muitas outras coisas e muitas outras direcções.
Tenho de reconhecer essa minha falha. Tento seguir o teu percurso musical, mas não é fácil…
É verdade, além de variado é internacional, o que ainda dificulta mais as coisas. Fiz um milhão de coisas na década de 1980 e depois decidi ir trabalhar em África, na Índia e no Médio Oriente. Por isso, as pessoas nos EUA por vezes dizem: «Ele era grande nos anos 80», porque deixei de estar focado na América…
A tua actividade como produtor também é enorme e acredito que os músicos queiram trabalhar contigo porque sentem que o teu trabalho valoriza o deles, que acrescenta sempre valor. Certamente que não é por seres bom com botões e microfones. Achas que esta exigência te coloca em constante pressão, porque é suposto trazer sempre uma novidade, ou isso não te afecta e acreditas que o tal toque de midas surgirá naturalmente?
Um pouco dos dois… infelizmente. Provavelmente é um bocadinho de cada coisa.
Tens algum livro de regras, um mapa para perceber e integrar os diferentes estilos e músicas que vais produzir?
Não, depende mesmo de cada projecto. Por vezes há um plano pré-estabelecido, uma ideia, e dou conselhos – ou indicações para seguir à risca –, mas em outras ocasiões deixo que a coisa se abra, que se revele. Há alturas em que não se consegue perceber tudo, demora uns minutos até se formar uma ideia clara daquilo que se vai fazer.
Um outro patamar

Deixa-me assumir o papel de fã para falar um pouco do “Killing Time” dos Massacre, um disco que considero muito importante, pois criou uma porta que não existia e por onde muitos outros músicos vieram a entrar mais tarde…
Acho que abrimos uma espécie de porta e que se tornou numa boa referência. Especialmente no Japão, criaram-se inúmeras bandas que emulavam os Massacre, bandas novas. E isso julgo que dá uma indicação clara de que estávamos a ir numa outra direcção: o rock improvisado. Também tínhamos peças escritas, mas com o tempo começámos a misturar as escritas com a improvisação e passado algum tempo já nem sabíamos se tínhamos escrito aquele tema. E a melhor coisa dos Massacre é que ainda existe: o melhor concerto que alguma vez demos foi há dois anos no Japão; esse concerto foi um outro patamar. Por isso, agora sei que podemos fazer isto ainda mais tempo.
Vi-os em Lisboa, creio que ainda no contexto dessa digressão…
Sim, esse concerto foi bom…
Também senti que o grupo ainda funcionava muito bem…
Em Lisboa foi bom. Demos um em Paris, também bom, mais ou menos nessa altura. Mas antes tínhamos tocado duas noites seguidas no Japão e esses foram realmente especiais.
Podes contar um pouco da história do grupo? Como é que surgiu?
Fred Frith foi convidado para ir a Nova Iorque por um produtor chamado Giorgio Gomelsky[1], que tinha produzido os Yardbirds e tinha sido o primeiro conselheiro dos Beatles e dos Rolling Stones. Mas quando essas bandas explodiram, ele perdeu a ligação. E por isso recomeçou, voltou-se para o prog rock que estava a nascer, como os Magma e os Henry Cow, que era a banda onde o Fred tocava. Mais tarde, ele foi para Nova Iorque e quis fazer um festival e convidar toda a gente com quem tinha trabalhado. O Fred era uma dessas pessoas. Eu tinha um baterista chamado Fred Maher, que tinha uns 16 anos na altura, e o Fred gostou de nós e começámos a tocar em trio. Arranjámos o primeiro concerto no dia de São Valentim num lugar chamado Soundscape. Para irmos lá tocar o Fred teve a ideia de um nome para o grupo que estivesse ligado ao massacre do dia de São Valentim[2], e assim ficámos com o nome Massacre. Continuámos a tocar nos clubes punk e por toda a parte com esse nome. Entretanto, Fred Maher acabou por se dedicar a outras coisas e chegou Anton Fier… que ficou pouco tempo até entrar Charles Hayward, que era um baterista muito melhor.
Há uma frase atribuída a James Brown que é mais ou menos assim: «Há dois lados no “show business” – há o “show” e há o “business”…
(risos) E os Last Poets dizem: «Don’t show anybody your…. business».
(risos) Pareces ser um especialista em montar “business”, mas também em largar “business”.
Não, não sou nada especialista. Gostava de ser. Ou era. Era quando havia investidores.
Quando estava a preparar esta entrevista pesquisei atentamente o teu novo projecto, o MOD Technologies, e só editas discos digitais. É uma opção?
A maior parte é digital, sim… é uma opção financeira. Optámos pelo digital para que as pessoas possam ouvir a música, mas vamos editar cópias físicas: estou a seleccionar 10 discos para fazer cópias físicas. Mas neste momento não os consigo editar.
Quando há uma editora há uma maneira de seguir músicos como tu que fazem tanta coisa. Como quando tinhas a Axiom.
A Axiom tinha um sistema de suporte financeiro. Trabalhei com Chris Blackwell durante 10 anos. Depois disso ele montou a Palm Pictures e desligou-se do projecto; ainda fiz mais uma dezena de discos, mas ele dava-nos uma grande sustentação que deixámos de ter. Sem ele já não era a mesma coisa.
Estás sempre a inventar mundos sonoros novos, mudando de estilo e de ambiente. Não pareces gostar de trabalhar exaustivamente num mesmo assunto e de o refinar, preferindo mudar e procurar outras coisas…
Sim, é isso, concordo.
Então falemos dos MOD (Method Of Defiance), o teu novo grupo. Podes fazer-nos uma actualização?
A ideia surgiu porque queria colaborar com produtores de drum ’n’ bass. A maioria são muito novos e, com o tempo, começámos a desenvolver um modo de improvisar com estas correntes de drum ’n’ bass” e de dubstep, estas coisas novas… bem, semi-novas… e adicionámos voz. Tocámos em Berlim há dois meses: os Method Of Defiance com Laurie Anderson, que é um contraste estranho.
Já tinhas trabalhado com ela…
Trabalhei muito com ela no passado[1], mas nunca a tinha colocado numa situação em que havia um drum ’n’ bass pesado e DJs…
E Laurie Anderson lidou bem com a situação…
Sim, ficou lindamente. Com o tempo quero fazer discos com estas gravações ou edições limitadas em vinil para que as pessoas as possam guardar. Sem ser como os ficheiros, que são “lost music”. Neste momento tenho tanta coisa que ainda ninguém ouviu… e não vão ouvir até eu arranjar uma maneira de as editar fisicamente.
Isto é bom

Pode ser por estar a ficar velho, mas acho que o objecto disco ainda é muito importante para a música, porque nos ajuda a arquivá-la mentalmente e a encontrarmos uma ligação entre a imagem da capa e o lugar na estante… Os ficheiros nos computadores são pouco arquiváveis na nossa mente. Ficam guardados, mas não com a mesma disponibilidade mental. Consigo dizer-te como é a capa do disco dos Praxis, porque ajudou-me a criar ligações na memória.
Não acho que seja uma questão de idade. Tem mais que ver com a tua percepção, a tua imaginação e a tua perseverança. Bem… nós desaceleramos, isso é garantido. Mas não devíamos. Temos de arranjar uma forma de navegar…
Para terminar, propunha que falássemos do disco dos Master Musicians of Jajouka que foi um dos muitos que fizeste dentro do que hoje em dia se chama “world music”, uma designação que ainda não tinha sido inventada na altura, creio eu.
Jajouka é uma lição de história em si mesma e cheia de contradições. Muitas coisas más, muitos problemas. A primeira vez que se ouviu Jajouka foi através de Brion Gysin e mais tarde de Paul Bowles e William S. Burroughs. O Burroughs não era um tipo muito musical, mas ele gostou daquilo e foi até lá. Ouvimos falar de Jajouka através destes escritores e artistas. Todas as vilas desde o início das montanhas do Rif têm uma música. Uma música própria. Mas esta vila em particular tem um tipo chamado Mohamed Hamri que era pintor e ficou amigo de Brion Gysin. Foi ele que convenceu o Gysin e o Bowles a levarem lá Brian Jones, dos Rolling Stones. O Jones gravou, e foi por causa desta relação que conhecemos Jajouka. Se tivesse sido noutra aldeia teria sido outro nome. Porque… repara: Master Musicians of Jajouka… honestamente…vamos ver…. eles tocam uma ou duas notas. Mas se juntares 20 pessoas a tocarem uma ou duas notas cada durante dez horas é uma cacofonia que nos leva de volta às flautas de pã e às teorias dionisíacas. Coisas confusas e convulsivas com todas estas ligações. Cada pessoa tem a sua teoria sobre a questão.
Eles ainda andam por aí; tocámos juntos na Bélgica há três ou quatro anos, editámos um disco – com cópias físicas – e foi provavelmente a melhor coisa que fiz com eles de sempre. O “Apocalipse Across the Sky” é o disco definitivo de Jajouka. Todos os tipos mais velhos estavam a morrer e por isso agora já não os temos. Mas temos Bachir Attar e a ascendência Attar vem de há séculos.
Foste até lá, levaste as tuas coisas e…
Sim, fui, mas naquela altura nem havia estrada. Tivemos de carregar o equipamento em mulas e nesse tempo era bem pesado… Sobretudo o gerador de electricidade. Excedemos o orçamento. Levei imenso equipamento, para apenas três dias.
Em 2013 vi Mokhtar Gania com Peter Brotzmann e Hamid Drake e para ele um concerto com a duração de uma hora é impensável. Deve ser estranhíssimo para o Gania vir de tão longe, ser pago e tocar apenas uma hora…
Estivemos juntos no festival de Raskilde. Eu, Jah Wobble e os três irmãos Gania: Mahmoud, Abdeileh e o mais novo, Mokhtar Gania. Tocámos quatro horas… o mesmo “riff”, sem parar. Eles não páram.
Em jeito de despedida, gostava de lhe recordar um concerto que deu em Lisboa, há muitos anos, com os Painkiller, num armazém com más condições acústicas. Foi o primeiro concerto na minha vida em que saí com dores físicas, de tal forma foram intensos o volume e a densidade do som.
Lembro-me desse concerto. Sabes, nessa noite alguém me deu imenso LSD. Eu estava com o LSD nas mãos e a suar. Estava calor. O LSD entrou em mim pela pele. Agarrei no LSD e disse a Mick Harris (baterista): «Isto é bom», e ele tomou. Depois, o meu cérebro foi-se embora… deixei de estar ali. Em palco entrou a máquina de fumos e eu pensei: «Wow… o que é isto?» Estava longe, mas lembro-me. A seguir ao concerto pedi ao promotor que nos levasse a um local muito calmo. Ele levou-nos a um sítio de música africana, altíssima, onde havia umas máscaras que metiam mesmo muito medo a quem estava no meu estado.
Fui com um amigo e quando saímos ficámos parados no parque de estacionamento, porque o som tinha sido tão forte, tínhamos os cérebros e os corpos tão desajustados, com os ouvidos a zumbir, que nem conseguíamos falar. Ficámos sentados em silêncio no carro até voltarmos um pouco à terra….
Obrigado por esta entrevista. Espero ouvi-lo de novo ao vivo em Portugal rapidamente.
Alright!
Ajuda-nos a manter viva e disponível a todos esta biblioteca.

[1] Giorgio Gomelsky foi um dos mais importantes “não-músicos” da história do rock. Foi promotor e “manager” de bandas focadas nos blues e teve uma importância decisiva no lançamento dos Rolling Stones e dos Yardbirds. Produziu várias gravações importantes, particularmente as dos Yardbirds, inserindo as suas ideias e visões sobre a música. Gomelsky trabalhou com vários músicos “underground” e apostou depois no rock progressivo dos Gong e dos Magma, apoiando ainda a corrente nova-iorquina alternativa dos anos 1980 com os Material. [2] O Massacre de São Valentim foi o assassinato de sete membros do Chicago's North Side Gang, em 1929. Foram alinhados e fuzilados contra uma parede por quatro assaltantes, no contexto da luta entre os “gangsters” de ascendência irlandesa e a mafia italo-americana liderada por Al Capone, aquando das lutas territoriais da época da Lei Seca. [3] Laswell foi o baixista de “Mister Heartbreak”.
O artigo: Um “workingman” em Guimarães, foi publicado @Jazz.pt
The post: Um “workingman” em Guimarães, appeared first @Jazz.pt
Assinados por Artes & contextos, são artigos originais de outras publicações e autores, devidamente identificadas e (se existente) link para o artigo original.