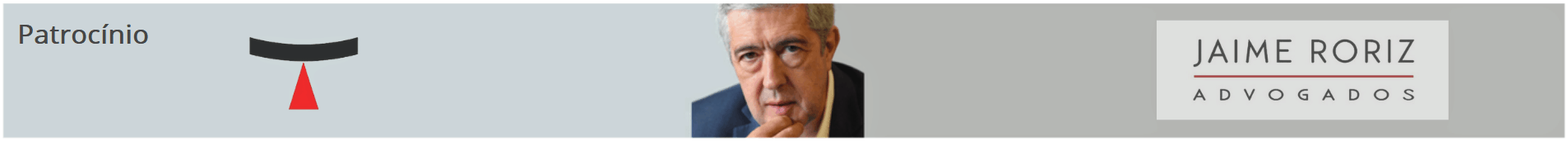Crying Lobster
Com influências pessoais que vão desde o Funk e do Hip Hop ao Psicadélico, passando pelo Jazz com algo de Indie, Metal e Stoner, os Crying Lobster nasceram em 2014, como Roots Call, formados pelo Costa, guitarra, o Rafa, bateria, o Duarte, voz e o Bernas, baixo e todos eles confessam, sonharam em criança com uma carreira musical.
Tudo começou quando o Costa colocou um anúncio na Internet a que o Rafa respondeu. Encontraram-se, beberam uns copos, criaram laços, tocaram umas coisas e procuraram um baixista. Entretanto o Costa e o Duarte conheceram-se na faculdade e este acabou por se juntar ao grupo. Desentenderam-se com o primeiro baixista e também com o segundo e finalmente chegou para fechar, o Bernas. Tinham nascido os, então, Roots Call.
Compuseram alguns temas, deram dois concertos e perceberam que não estavam no caminho que desejavam. Abraçavam uma onda com algo de Pop, talvez com vista nas audiências, mas a expressão interior, a linguagem que sabiam ter de usar para comunicar o que sentiam, não estava a ser respeitada. As criações não traduziam a paixão que os movia.
Em 2016 fizeram pausa, olharam para dentro, encararam um novo caminho, abandonaram as músicas “antigas” e começaram tudo de novo como Crying Lobster.
Queens of The Stone Age, Tool, Foo Fighters e Led Zeppelin são alguns dos seus modelos, mas sem se identificarem com uma etiqueta do canon, têm uma identidade própria que nasceu de uma amizade que criaram, onde respeitam as inclinações e influências de cada um e que mesclam num processo de composição e produção que pode ser coletivo, em que um tema pode nascer – como dizem – de “um devaneio na sala de ensaios”.
Em 2017 lançaram o seu primeiro E.P. Crying Lobster.
Entretanto com mágoa para todos, mas com a amizade a falar mais alto e mantendo, garantem, a porta aberta o Costa, por opções da vida pessoal, abandonou o grupo.
Foi neste intervalo que o Bruno e o Rui do Artes & contextos se encontraram com o Rafa e com o Duarte numa esplanada à beira Tejo, para conversarem sobre esta nova promessa da música nacional.
Artes & contextos – Comecemos pelo princípio. Sabemos que todos vocês sempre sonharam com uma carreira musical. Como se revelou em cada um?
Crying Lobster – [Rafa] Música era aquilo que eu mais queria fazer desde sempre, desde que peguei numas baquetas, a única coisa que eu queria fazer era tocar, tocar, tocar…
C.L. – Eu [Duarte] comecei durante o secundário a ter bandas e percebi que era isso que eu queria.
A&c. – Quando isto começou, todos eram estudantes?
C.L. – Sim, agora eu [Rafa] e o Bernas já acabamos o curso.
A&c. – O que estudaram?
C.L. – Eu [Rafa] e o Bernas estudámos ambos no Hot Club e depois tirámos a licenciatura em Jazz e Música Modernas na Universidade Lusíada de Lisboa.
A&c – Duarte…
C.L. – Eu estudei música desde os oito anos até aos dezassete, até ter deixado de ver a música como algo divertido porque quando fui para o conservatório comecei a ter formação clássica, passei a vê-la como uma disciplina chata como outra qualquer. Acaba por ser muito baseado em matemática, coisa a que eu nunca fui muito bom e era uma coisa chata, portanto eu deixei de ter interesse. Aos dezassete anos eu queria ter tempo para mim, não queria estudar mais música pelo menos no sentido clássico e depois ao mesmo tempo comecei a descobrir o rock and rol, hard-rock e as coisas mais pesadas e comecei a perceber, sim eu quero fazer música, mas não, não quero música clássica. Eu sei que isso é muito importante, é muito bonito, mas não é pra mim. Apesar de ser uma coisa fantástica para os miúdos aprenderem para ganharem bases ou mesmo prosseguirem na vida, mas com eu sempre fui uma pessoa que quis alargar opções, chegou um ponto em que os meus pais me disseram: tu devias ir para música, mas se não queres ir para música, escolhe outra coisa que te sirva de base, que te vá dar uma maior abrangência para depois fazeres o que quiseres, para quando acabares o curso e se quiseres, poderes tirar música.
Em Portugal é muito complicado ser músico e eu comecei a ver que tinha que comer, por isso faço o que for preciso, mesmo ter dois trabalhos, então estou a tirar Direito. Não tenho problema com isso porque este é o meu sonho e quem corre por gosto não cansa. Foi uma maneira de ter uma rede de segurança.
A&c – Dois anos de Roots Call e mudaram para Crying Lobster. Mas a mudança não foi apenas pelo nome, o que é que realmente mudou dos Roots Call para os Crying Lobster?
C.L. – Mudou a nossa postura perante a música que estávamos a compor. Passamos a fazer aquilo que sentimos em vez de pensar naquilo que mais gente quer ouvir. Por outras palavras, tornámo-nos menos óbvios.
Consideram o seu Rock “sujo, um sujo propositado”. Têm como exemplo dessa sujidade do rock nos Queens of The Stone Age, que “parecendo uma coisa desleixada tem por detrás muito trabalho”. Pretendem fazer tudo muito bem feito, meter o que têm de melhor em cada tema, em cada fase da música e ao mesmo tempo passar aquela sujidade do Grunge e do Rock’n Roll.
O seu maior orgulho – dizem – é também a sua maldição: não soam a ninguém, não fazem um Rock ligeiro para a rádio, nem são pesados o suficiente para se colarem ao Metal; não se assumem como Stoner, Metal, ou Psicadélico, são uma mistela que não cabe em nenhuma caixa e isso está a ser, confessam, um grande problema.

A&c – Apesar desta multifaceta, e tendo em conta o vosso curto tempo de vida, já têm uma identidade própria, já há uma linha, mas no fim com temas punk, psicadélicos ou experimentalistas vocês acabam sempre no Rock and Roll.
C.L. – É, sem dúvida a big box é Rock and Roll. Nós temos a mente muito aberta em tudo e então isso também se reflete na música.
A&c – A propósito, aqui há dias alguém dizia que não há influências, que isto das influências é uma treta, porque o que os músicos, pintores, escritores etc. fazem é imitar os seus ídolos.
C.L. – Há os dois caminhos: primeiro há que imitar para conseguir captar e perceber aquilo gostamos e depois temos que fazer daquilo nosso. São duas coisas completamente diferentes, ou seja, essa afirmação não está completamente incorreta porque obviamente vamos importar algo de outras pessoas, mas não é identidade delas, apenas o que nós achamos que acaba por coincidir com nossa própria identidade…
…isso é mais ou menos como cozinhar um prato complexo, por exemplo um caril ou uma feijoada, há a receita, só que tu vais provar o prato, tens uma ideia dos sabores que lá estão e depois crias o teu próprio prato a partir daquilo que achas está lá e acaba por sair o teu próprio prato.
Nós puxamos um bocadinho p’ro lado daquilo que mais gostamos e que mais nos influencia, mas depois acabamos sempre por dar o nosso toque. Simplesmente puxamos o bocadinho que gostamos de cada uma delas e transformamos numa coisa nossa, até porque todos nós temos gostos um bocado diferentes: temos entre nós influências que vão desde o Funk e do Hip Hop, até ao Psicadélico, passando naturalmente pelo Jazz, algo de Indie, Metal e Stoner.
Quanto a influências recolhidas dos seus ambientes naturais, reconhecem aquelas recebidas da música ouvida ao crescer, e nas suas famílias, onde há fadistas, apreciadores de música cubana, de música clássica ou Jazz e não sendo World Music, a sua música e cada um dos temas tem um toque de qualquer coisa tradicional de algum sítio. Há temas como For Whom The Bell Tolls que “é espanhol”, há uma música africana a Jungle Walls, temas a puxar para o Punk, outras para o Stoner, outras que puxam para o psicadélico. Atualmente estão num processo de criação de um tema que com algo de israelita, e eventualmente virá uma música com um toque mais arábico e até talvez o celta.
“Para além da música base, nós gostamos sempre de meter um tempero tradicional de algum sítio”.
A&c – Como foi o vosso primeiro concerto?
C.L. – O nosso primeiro concerto a sério, foi no EKA Palace. Antes disso tocamos no Side B e tocamos em Leiria quando estivemos a concorrer para o Concurso de Bandas do Avante.
A&c – Falemos da vossa postura ao vivo. Agarrando no exemplo dos Led Zeppelin, uma das vossas bandas “modelo” e, por exemplo do tema Dazed and Confused, que ao vivo pode durar meia hora: vocês fazem o mesmo em relação a alguns temas.
C.L. – Sim, por exemplo no último concerto no Tóquio aconteceu, pediram-nos um ancore e num devaneio decidi mudar as coisas, então comecei a gritar para eles, mas ninguém percebeu nada do que eu disse, mesmo assim eu entrei e eles sem saber para onde iam vieram atrás e claro, deu barraca. Mas aconteceu um solo de bateria que nunca aconteceria naquele ponto, a música teve mais sete ou oito minutos e deu moche. O nosso primeiro moche, e foi um orgulho tão grande que eu apetecia-me largar a bateria e saltar lá para o meio.
Isto também tem muito a ver com o Jazz e com o improviso. A mim acontece e a eles acho que também, quando estou a tocar ao vivo só me apetece ficar ali para o resto da minha vida. Não me apetece parar, toco com mais força, toco mais depressa, quero tocar mais tempo.
Um concerto não pode ser apenas tocar as músicas, nós queremos criar um espetáculo à nossa maneira, então há sempre disparates, piadas mesmo que sejam secas, há sempre figuras tristes entre nós.

A&c – Umberto Eco dizia que “temos que rir de quem não se sabe rir de si próprio” …
C.L. – É, a maior parte das coisas são nós a gozarmos connosco em palco.
Quando nós chegamos ao palco a primeira música é sempre mais séria porque é aquele momento da entrada e depois cada um tem o seu momento para atingir o seu estado de conforto. Para mim, passados vinte segundos já estou ótimo. Eu entro e depois de ter feito aqueles primeiros bombos marados e saber que correu bem, já sei que dali para a frente vai tudo correr bem e se correr mal eu dou a volta, aí eu entro em modo festa, já estou a ver o que as pessoas gostam, já estou à procura, … eu acho que isso é o mais importante, eu vejo aquele público como amigos, as pessoas querem aquilo que eu tenho para lhes dar portanto eu não tenho que ter vergonha de falar. Não é como quando vamos ter com uma miúda num bar, nunca se sabe se ele queria que eu fosse ou não, vou e corro o risco de ela dizer não. Ali, eles querem que eu vá lá, eles estão ali para nós, portanto a probabilidade de fazer porcaria é muito pequena.
A&c – E é nesse espírito, que vocês começam a puxar uns pelos outros. Eventualmente haverá um que puxa primeiro pelos outros todos e depois vão trocando.
C.L. – Sim, basicamente é isso, quando há um momento de impasse em que não se sabe muito bem o que vai acontecer, ou eu [Rafa] ou o Duarte acabamos por resolver a situação. Quando é a tocar, sou eu ou o Bernas por causa da experiência do Jazz e da capacidade de improvisação, quando há um problema é difícil resolver sem que fique estranho e uma das maiores magias do jazz é a capacidade de resolver embrulhadas e quando algo corre mal, ficar ainda melhor.
A&c – Depois dos concertos falam entre todos sobre o que aconteceu?
C.L. – Sempre. O que correu mal, o que correu bem, o que temos que mudar, tudo.
A&c – Aproveitam um momento que tenha sido especialmente bom em palco para melhorar ou acrescentar ao tema?
C.L. – Não. Aconteceu, foi um momento. Por exemplo no concerto na Fábrica do Braço de Prata o baixista e o guitarrista esqueceram-se de retirar o drop D e entraram completamente desafinados, então, tinha que haver uma adaptação e houve um momento em que o verso de uma das canções foi bateria e voz. Mas ninguém percebeu, aquilo estava fixe na mesma e quando entrou para o refrão, entrou com mais power e eu se calhar até fiquei triste de nunca ter sido assim, mas aconteceu naquele dia, aconteceu daquela maneira, tinha que acontecer assim e pronto, foi só.
A&c – Veem-se no Altice Arena?
C.L. – Se nos dissessem que era possível e que teríamos público, era já! Nem ponderava.
Até porque é muito mais fácil estar em concertos maiores do que concertos em que se consegue ver as caras das pessoas, é a questão do anonimato, sabemos que está lá muita gente, mas não conseguimos individualizar e isso acaba por ajudar.
A&c – Isso não é um pouco contraditório com a vossa necessidade de diálogo constante com o público?
C.L. – Não. O que nós ganhamos com o público não é o diálogo individual com as pessoas. Se num concerto com seiscentas pessoas toda a gente estiver a dançar, nós temos que tocar de modo a entrar nisso. Por exemplo se um concerto tiver mais mulheres os concertos não são tão barulhentos e têm mais ginga, são mais dançáveis, têm um quê de mais funk.
A&c – Mas isso acontece ou é um processo consciente?
C.L. – Não, não é consciente, nós estamos a receber uma determinada informação do público e transmitimos essa informação, mas não são as expressões faciais, a única coisa que a expressão facial provoca é pânico, mais nada. Se houver um grupo de duas mil pessoas a agir de determinada maneira, nós sabemos para onde é que temos de ir, ou seja, não é no comportamento individual é no do grupo, portanto quanto maior o grupo…
Nós no último concerto até fizemos uma coisa que se faz nas battles de hip-hop, pediram-nos mais uma música e nós ouvimos as pessoas a gritar os nomes de duas músicas, então perguntamos quem queria uma e quem queria a outra e tocamos a que teve maior volume de berros.
Em termos de composição e postura da banda garantem ter uma grande influência e um grande respeito pelos Tool, uma banda que é das favoritas de todos. Consideram que cada álbum da banda californiana, é mais incrível, mais interessante, com mais ideias novas, ideias mais maduras do que o anterior e essa é a sua maneira de pensar.
A&c – Houve altura, em que já não via dúvidas que era uma coisa para levar a sério, que mais não fosse, a partir da primeira gravação, até porque, quando tens alguma coisa lançada ficas com uma responsabilidade.
C.L. – Sim, mas a gravação específica que nos fez perceber que isto era realmente uma coisa pra levar a sério foi quando começamos a juntar dinheiro para gravar o EP a sério. Não quando fizemos algumas gravações pelo meio como acabamos por gravar num estúdio. Fizemos mais umas gravaçõezinhas com outras pessoas só para ver o que é que saia dali, para ver como é que estava a soar, para mandar para alguns bares, mas só mesmo quando decidimos investir o nosso dinheiro é que percebemos, ok se vamos investir o nosso dinheiro é para levar isto a sério. Não foi a primeira gravação, a primeira gravação foi para aproveitar, ok já que nos ofereceram isto vamos ver o que dá, mas foi quando decidimos por o pouco que temos como estudantes jovens que é praticamente nada, abdicar das nossas bebedeiras, de saídas à noite e de idas ao cinema, jantar fora e coisas com as namoradas, quantos decidimos juntar o nosso dinheiro para isto, aí é que tomamos a decisão de “vamos levar isto a sério”.
Tomada a decisão de gravar o CD, começaram a procurar e analisar “tudo o que lhes aparecia à frente”.
“Víamos preços, respirávamos fundo, chorávamos e apanhávamos mais uma bebedeira”.
Fizeram uma primeira experiência num estúdio que não correu bem, no sentido de os resultados não serem aquilo que esperavam. Lembraram-se do Tiago do Estúdio Q, também músico, (baixista) com quem o Rafa já tinha tocado e que tinha como vantagem “adorar” as suas músicas e acreditar neles. O Tiago fez-lhes uma proposta interessante e prometeu-lhes dar melhor de si para conseguirem o que pretendiam. Entregou-se com eles ao projeto horas e horas e eles sabiam que, mesmo que não ficasse com a qualidade do melhor estúdio, pelo menos ia ter paixão e no fim, consideram que ele conseguiu transformar o som dos Crying Lobster em algo mais interessante do que aquilo que eles estavam a conseguir fazer.

A&c – Como correu todo o processo de gravação do EP?
C.L. – Tivemos alguns problemas porque eu estava a tentar impor uma coisa na gravação que eles concordaram que é o Live Session. Como nós temos muita interação como músicos de jazz, principalmente eu e o baixista, como vivemos Jazz, a improvisação faz muito parte da nossa forma tocar, então nós nunca tocamos as coisas exatamente da mesma maneira, há sempre coisas mudam coisas novas que estão a acontecer e nós estamos em constante comunicação. Não temos aquele problema que a maior parte das bandas que gravam ou fazem as coisas em computador e depois fazem o resto, ou então ligam o metrónomo, o baterista grava, ligam o metrónomo, o baixista grava, depois o guitarrista e depois o vocalista.
Como estamos em constante interação às vezes há coisas que gravamos que não era suposto gravarmos daquela maneira, mas a coisa ficou ainda melhor e esse é o nosso processo composição. Isto é um problema porque hoje em dia já muito poucas pessoas que gravam dessa maneira, principalmente se não tiverem um estúdio com grandes condições como por exemplo o Snarky Puppy, que gravam sempre assim, gravam ao vivo, mas têm uma excelente qualidade e um excelente estúdio de gravação.
Quando ao vivo não conseguem fazer o que pretendem com um tema, não o gravam. Não querem que as prestações em estúdio sejam garantidas através de efeitos e acrescentos que depois ao vivo não sejam capazes de reproduzir. Querem que o que tocam ao vivo seja melhor do que em álbum, porque quem gostar do que ouve no álbum quando for assistir ao vivo, estará definitivamente “agarrado”.
Além disso, assumem a responsabilidade perante o público de garantir que o que ouvem no CD não é não é uma fórmula exata, não é apenas como está. Querem que cada espetáculo seja único – as pessoas gastaram o seu tempo para lá estar, para os ver e ouvir e eles querem dar-lhes algo único, querem que o seu público saiba que também investem para eles.
A&c – Entre o que correu bem, o que correu mal, e nas voltas que deu, no fim ficaram orgulhosos do resultado…
C.L. – Sim, mas nunca cem por cento orgulhosos. Pelo menos da minha parte [Rafa], nunca estou completamente satisfeito. Sou muito chato e se calhar ainda hoje estava lá a gravar.
E sim, o nosso maior desafio foi gravar em live session porque na nossa maneira de pensar, apesar de sermos todos bastante diferentes, temos uma cena que adoramos que é o Rock And Roll dos Led Zeppelin, então nós queríamos é aquele som sujo a acontecer na hora em live session tipo se a coisa acelerar ligeiramente acelera naturalmente, se a coisa tiver que atrasar, atrasa naturalmente, vai acontecer o que tiver que acontecer sem regras e só com aquilo que nós quisermos impor,
A&c – Isso é mais puro e dará mais gosto, mas também deve ser mais trabalhoso.
C.L. – A outra forma também é trabalhosa. Uma coisa chata é que, como não se tem interação tem que tentar tocar como se se estivesse com outra pessoa ao lado, que não está, tem que se passar o mesmo sentimento para gravação temos que transmitir a sensação que estamos a tocar todos juntos e isso é uma coisa que às vezes é difícil, às vezes não dá a mesma pica não se acorda virado por esse lado.
Tendo consciência da crescente democratização e difusão livre da música têm por isso a noção de que a rentabilidade do CD não será significativa, mas o que pretendem – afirmam – é começar a chegar às pessoas, fazer com que elas gostem do que ouvem e comecem a segui-los, que passem aos amigos e aos amigos dos amigos para começarmos a ser falados e a ser ouvidos.

A&c – Como foi a receção ao EP?
C.L. – Honestamente, a maior parte das pessoas que ouviram o nosso EP, eram pessoas que já nos conheciam e essas dizem que preferem ao vivo.
Está muito difícil chegar às pessoas. A começar porque há cada vez menos pessoas a ouvir rock, o Facebook não funciona e até porque as pessoas que nos ouvem não são muito agarradas às redes sociais e depois o rock não é o Pop, o rock é das pessoas que são de fora. Nós não gostamos de determinados estilos de música, nós não gostamos dessas redes que toda a gente gosta, nós não gostamos da Casa dos Segredos, nós não gostamos do Big Brother, nós não gostamos desse tipo de merdas e então é difícil chegar ao nosso público através das redes sociais, porque as redes sociais estão repletas de coisas que não interessam ao público que gosta de nós.
Lamentam a falta de solidariedade entre iguais, para quem está a começar, sobretudo em Lisboa. Sentem que no Norte do país apoiam-se muito uns aos outros, não olham uns para os outros como mais um potencial concorrente, olham como mais um para a equipa. A bandas no Porto, (principalmente agora no florescente Stoner) agarram-se umas às outras, vão a sítios juntas, dizem umas às outras onde podem ir tocar; as bandas maiores pegam nas bandas mais pequenas e ajudam-nas se gostarem do som deles.
“Em Lisboa o que acontece é que vais a um bar está lá outra banda, dizes mal, bebes uma cerveja e vais-te embora. Em Lisboa não há apoio. Para uma banda que está a começar não conseguindo o apoio de ninguém é muito difícil dar os primeiros passos sozinhos.”
A&c – Vocês acreditam no diálogo entre as artes, claro.
C.L. – Sem dúvida, então a música está em todo o lado no cinema, numa fotografia que pode ter uma música por trás, um museu tem música, tudo se relaciona, a capa de um álbum, um vídeo clip, todas as artes estão ligadas, sim.
A&c – Já fizeram algum trabalho ligado com outra expressão artística como o teatro, por exemplo?
C.L. – Eu já tive uma experiência que foi muito engraçada foi trabalhar com artistas de circo em que eles estavam a fazer coisas e nós estávamos a improvisar por cima deles ou seja aquilo foi uma comunicação constante entre músicos e artistas de circo.
A&c – Isso é muito jazzista não é?
C.L. – É sim tem algo de jazz mas também tem um quê de Gypsy – nunca se sabe o que vai acontecer. Se eles estiverem a puxar para um lado mais africano nós temos que ir por esse lado mais africano se nós puxarmos para determinado lado eles têm que vir atrás de nós. Isso foi das coisas mais engraçadas que eu fiz e até gostava de repetir.
Também temos amigos nossos que desenham e vão desenhar o nosso ensaio, não vão desenhar-nos a nós, mas sentam-se a ouvir-nos e desenham em função daquilo que nós estamos a tocar.
A&c – É a ideia da mensagem base, dizer a mesma coisa por linguagens diferentes.
C.L. – É.
A&c – Agradava-vos fazer, por exemplo uma música ou a banda sonora de um filme…
C.L. – Muito.
A&c – Dá-me um exemplo de uma banda sonora que te encha as medidas.
C.L. – From Dusk Till Dawn, (Aberto até de madrugada) do Robert Rodrigues com o Tarantino. É um filme que tem uma banda sonora incrível, aliás os filmes do Tarantino têm sempre música incrível. Agora, de há pouco tempo há o Baby Driver, Apocalipse Now, e lembro-me também da cena da igreja no Kingsman que é absolutamente incrível
A&c – Nunca vos acontece ouvirem um tema ao fim de dois anos e pensarem que se a fizessem hoje fariam de uma forma diferente?
C.L. – Passada uma semana, já faria de uma maneira diferente, mas é o processo de crescimento, agora as próximas músicas que fizermos já vão ser melhores.
“Nós estamos a evoluir ao longo do tempo, tanto como pessoas quanto como músicos, mas lá está, as músicas que foram feitas ficaram e as novas vão ter que ser mais perfeitas, mais adultas, vão ter que refletir aquilo que fomos aprendendo.”
A&c – Ok, falem-nos agora do vídeo clip. Como é que lá chegaram?
C.L. – Primeiro, pela certeza de que a imagem é muito importante e nós não tínhamos uma imagem própria, nem da mística que queremos passar. Uma coisa é a música e com aquela, com o vídeo da Starry Night, tentamos transmitir isso.
Primeiro não tínhamos budget nenhum, o budget do vídeo clip foi 35€ e foram para gasolina, cerveja e umas pizzas congeladas para o micro-ondas, para alimentar as pessoas que foram participar de borla; disponibilizaram-nos um apartamento em Lisboa, onde vivia uma amiga minha [Duarte] e o resto foi em compras de acessórios em lojas de chineses, para o vídeo.
Começamos por formar uma ideia conjunta, depois eu [Rafa] sentei-me em casa e acabei de escrever a história. Depois, quando fomos passar à prática, aconteceu só mais ou menos aquilo que eu tinha imaginado e foi um processo muito marado. Quatro jovens mal alimentados, bem bebidos e em playback, organizar aquela gente toda, é muito difícil.
A&c – Quem realizou o vídeo?
C.L. – Foi o Tiago do Estúdio Q. Ele tem-nos apoiado imenso e também nos ofereceu o vídeo.
A&c – Não gravam imagens dos concertos?
C.L. – Pedimos a amigos para gravarem, mas nunca tem qualidade suficiente.

A&c – Como é que nasceu o tema For Whom The Bell Tolls(1) que eu sei que tem um significado especial.
(1) (da obra de Ernest Hemingway, Por quem os Sinos Dobram, (título em português))
C.L. – Esse tema foi o primeiro que fizemos, na nossa segunda fase, na altura em que mandamos as músicas antigas abaixo e começamos um novo processo de construção.
Começou com uma ideia que não tinha nada a ver com aquilo que a música é agora, como acontece com a maior parte das nossas músicas e a ideia era entrar num conceito um pouco puxado para o lado espanhol, para a escala do frigio (2) muito dentro do Flamenco, muito dentro do ambiente espanhol. Então nós começamos a puxar por aí. Ao mesmo tempo foi na altura em que começamos a fazer mais aquilo que é a nossa onda e não aquilo que as pessoas esperam ouvir e então surgiu a nossa primeira música em compasso 5/4 (3). Começamos a construir a música e pensamos, já que estamos a tocar Rock e temos uma música bastante pesada, porque não escrever uma letra sobre o livro For Whom The Bell Tolls, que fala exatamente sobre a Guerra Civil espanhola? Então a letra é sobre isso, tal e qual como o é a letra dos Metallica, sendo perspetivas diferentes do livro.
(2) Escala diatónica com tónica na terceira nota.
(3) Temas em compasso 5/4: Take five (Dave Brubeck); Tema principal de Missão Impossível (Lalo Schifrin); Seven Days (Sting)
A&c – O que é que o livro deu ao tema?
C.L. – A verdade é que não foi o livro que deu ao tema, foi o tema que puxou o livro. O tema está construído com muitas fases e tivemos um processo que é um verso muito longo e que está em constante desenvolvimento, então mais ou menos até ao meio do livro, à fase em que ele chega à gruta, começa a conhecer as pessoas, começa a perceber o que está a acontecer e à medida que o livro vai passando, vai descobrindo novas coisas em relação às técnicas de guerrilha, ao que é que ele vai fazer à ponte, então a música vai crescendo e tornando-se cada vez mais agressiva. Finalmente chega ao ponto em que há o primeiro ataque e nós temos o refrão.
A partir do primeiro ataque passa a haver uma constante pressão, os aviões estão a passar, eles têm que decidir onde vão atacar, onde manter as pessoas. Na música, a partir do refrão que é a parte mais pesada, entra para um solo e quando entra no solo, acontece o natural ao reagir à imprevisibilidade da guerra. Temos uma coisa combinada, não vai acontecer como está combinada, isto é o conceito do solo, que vai sempre aparecer de uma maneira diferente. Mais tarde entra para uma terceira parte que á a mais agressiva da música que é o final, que corresponde à guerra final e ao momento em que ele morre e a música acaba.
O que nós tentamos fazer foi absorver as personagens e fazer a letra em função disso.
A&c – Como nasceu a capa do álbum?
C.L. – Nós, na altura estávamos a trabalhar com uma agência e tínhamos uma designer a trabalhar connosco, só que não havia aquela relação de proximidade a designer estava a trabalhar, mas estava a trabalhar em função daquilo que nós lhe dizíamos e a verdade é que quando se está a tentar pedir arte a alguém, é difícil pedir por palavras, eu não consigo pedir a uma pessoa um quadro, a pessoa tem que me conhecer para perceber aquilo que eu quero. Eu não posso encomendar a uma pessoa uma música sem ela perceber primeiro aquilo que eu quero fazer com a música, então nós tivemos problemas com isso, porque recebemos várias ideias para a capa do álbum e não estávamos a conseguir receber aquilo que queríamos. Então já estávamos a ser chatos e entramos numa de escolher a imagem que menos nos desagradava. Então o que aconteceu foi que, um amigo do Costa, por brincadeira decidiu fazer-nos um logotipo e uma capa e deu-nos. Nós olhamos para a capa e dissemos, “é isto”. E surgiu assim.
Precisávamos de alguém que nos conhecesse e que conhecesse bem o nosso som e foi isso que aconteceu.
A&c – A saída o Costa, não apenas fundador, mas o fundador, provocou algum abalo na vossa alma coletiva?
C.L. – Sim, claro. Este sempre foi um projeto coletivo, todos participamos para aquilo que é a nossa sonoridade.
Além disso, somos todos como irmãos, o que torna a coisa mais complicada. Mas vamos trabalhar para manter o nível e até mesmo melhora-lo, porque tal como o Costa trazia contributos, também o Paiva o irá trazer. É uma nova fase.
A&c – Como está a correr a integração do Tiago Paiva?
C.L. – Até ver, está a correr bastante bem. Fomos capazes de manter a nossa sonoridade e ao mesmo tempo acrescentar algo novo e interessante. Como já toco (Rafa) com o Paiva há bastantes anos, e o Bernas também já toca com ele há algum tempo, a química já estava presente, o que facilitou bastante o processo.
A&c – Porquê a opção da língua inglesa?
C.L. – A primeira razão é podermos passar a nossa mensagem para o mundo todo. Depois pareceu-nos a coisa natural a fazer, aliás já nos disseram para ponderarmos nisso e tocarmos músicas portuguesas, e até houve uma altura em que chegamos a ponderar, mas, entretanto, foram surgindo mais músicas em inglês e a facilidade com que se está a escrever músicas em inglês é muito mais alta.
Eu [Rafa] só escrevo em português, mas se fosse passado a música dava coisa tipo Jorge Palma e isso não é propriamente para nós.
Ajuda-nos a manter viva e disponível a todos esta biblioteca.

A&c – E já atingiu o ponto de não retorno…
C.L. – Sim, agora já era impossível, mas quem sabe, talvez um dia um álbum em português, nem que seja pela experiência.
Assinados por Artes & contextos, são artigos originais de outras publicações e autores, devidamente identificadas e (se existente) link para o artigo original.