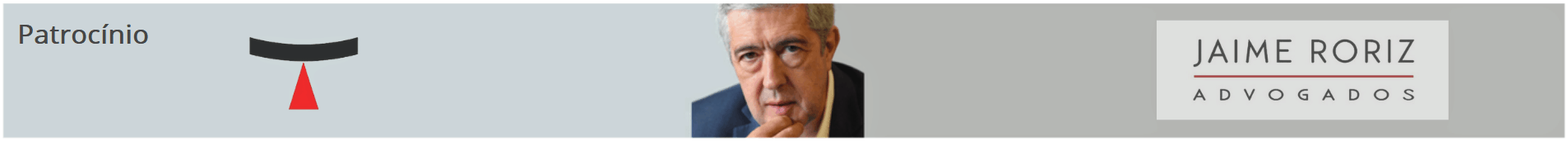Margaret Mead
“Se elaborarmos um critério para definir o artista… o impulso para fazer algo novo… – uma espécie de descontentamento divino com tudo o que foi antes, por muito bom que tenha sido – então podemos encontrar tais artistas a todos os níveis da cultura humana, mesmo quando executam actos de grande simplicidade.”
A questão do que é a criatividade e como ela pode ser cultivada ocupou filósofos durante milénios e psicólogos durante um século. Mas foi apenas no último piscar de olhos da nossa história civilizacional, uma vez que a industrialização e a automatização aliviaram muito do peso diário do trabalho árduo pelo qual a humanidade sobreviveu durante a maior parte da sua existência, que chegámos a pensar na criatividade não como um luxo dos poucos privilegiados, mas como uma presença animadora manifestada de uma forma ou de outra em cada vida humana. Foi apenas em meados do século XX que o filósofo alemão Josef Pieper pôde fazer a sua elegante argumentação sobre a razão pela qual o lazer é a base da cultura e da criatividade, antes que o culto moderno do workaholismo transformasse rapidamente este frágil entendimento em pó.
Tal como o estudo mais influente da psicologia sobre criatividade estava a ganhar impulso em Stanford, a grande antropóloga Margaret Mead (16 de Dezembro de 1901 – 15 de Novembro de 1978) escreveu uma fascinante e imensamente perspicaz peça intitulada Trabalho, Lazer e Criatividade para a edição de Inverno de 1960 da Daedalus – a revista da Academia Americana de Artes e Ciência, na qual Mead foi a segunda mulher a ser admitida. (A primeira, quase um século antes, foi a astrónoma Maria Mitchell).

Escrevendo na aurora abrasadora da cultura de consumo – o que Adam Curtis chamaria mais tarde “o século do self” – e uma década antes de imaginar um mundo pós-consumista na sua magnífica conversa com James Baldwin, Mead considera o condicionamento cultural que até hoje põe em perigo a nossa capacidade de distinguir entre produtividade e criatividade:
Gostaria de questionar primeiro a utilidade da simples dicotomia entre trabalho e lazer, sendo o trabalho as coisas que o homem tem de fazer para ganhar o seu pão de cada dia, e o lazer tudo o que ele faz com o tempo que lhe resta. Pois se seguirmos esta forma de ver a vida, peculiar à nossa própria tradição estreita, seremos então confrontados com a colocação de actividades como a adoração dos deuses, ou a realização de uma tragédia, numa ou noutra categoria.

Baseando-se no seu trabalho antropológico, Margaret Mead observa que culturas como os balineses resolveram este problema com vocabulário, usando uma palavra – “uma palavra curta e dura” – para o tipo de trabalho quotidiano realizado por pessoas de baixa casta, e outra – “uma palavra elegante” – para algo realizado por pessoas de alta casta ou para os deuses. Meio século depois de H.P Lovecraft ter afirmado que “os amadores escrevem puramente por amor à sua arte, sem a influência estupidificante do comercialismo“, Mead acrescenta:
Um eco deste tipo de classificação pode ser encontrado na palavra inglesa amateur com a sua implicação de que as actividades que podem ser realizadas livremente por aqueles cuja subsistência provém de alguma outra fonte, são reduzidas e manchadas se feitas para ganhar.
Assim, podemos começar com a liberdade de rezar ou esculpir, agir ou pintar ou cantar, e terminar com a sua degradação ou, como fazem os balineses, enfatizar não se uma actividade é para pagamento ou não, mas sim quem se envolve nela e em que circunstâncias.
Observando como esta “interpenetração da arte e da vida” tem confundido os visitantes de Bali, Mead observa que a maioria das explicações ocidentais têm sido demasiado simplistas e tipicamente romantizaram este modelo de cultura como superior à tirania ocidental do relógio. Mas ela aponta para uma cultura próxima diferente como um lembrete de que qualquer tecnologia é apenas tão boa ou má, tão limitadora ou libertadora, como as intenções por detrás da sua utilização:
Numa outra ilha do Mar do Sul, Manus, encontrei em 1928 um povo sem relógios, sem calendário, apenas com o simples ritmo de um mercado de três dias e a correria mensal do peixe sobre o recife, que, no entanto, se dirigia de um ano não reconhecido e não marcado para o seguinte, vendo as festas como um trabalho mais árduo do que os dias que não tinham festa. Para eles, a periodicidade do homem branco de horas para começar a trabalhar e horas para parar veio como um alívio abençoado e o sábado cristão como um dia de descanso inimaginável. Falaram com entusiasmo dos sinos que pontuavam o trabalho árduo nas plantações de propriedade europeia: “Quando o sino toca ao meio-dia pode parar, e não tem de voltar a trabalhar até o sino tocar para voltar ao trabalho”.

Mas o aspeto mais invulgar dos Manus era que, embora comprassem e vendessem artefactos de tribos vizinhas, não participavam nas artes propriamente ditas. Mead escreve:
Cada cultura bem descrita fornece provas das muitas formas em que a atividade pode ser categorizada: como trabalho virtuoso e jogo pecaminoso, como trabalho monótono quando feito sozinho e feliz alegria quando a mesma atividade (pesca ou caça ou construção de casas) é feita em grupo, como trabalho quando para si próprio, e deleite quando para os deuses, ou como, no máximo, agradável e autopropulsionado quando feito para si próprio mas horrendo quando feito a mando do estado. Há tantos tipos de classificação como houve civilizações, cada uma tendo o seu significado para o lugar das artes na vida de qualquer grupo humano em particular.
Considerando a forma como as normas e perspetivas de cada época ditam a forma como estes conceitos são classificados, Mead ecoa o lamento de Tchaikovsky sobre a diferença entre liberdade criativa e trabalho encomendado, e escreve:
Uma variável significativa é a sensação de liberdade: o que se faz de livre vontade deve ser separado de qualquer coisa feita sob coação, pela necessidade de comer, ou sobreviver, ou pela vontade dos outros. Assim… plantar uma horta para comer seria trabalho, mas feito para o prazer de se gabar do tamanho das couves, torna-se uma atividade de lazer.
Mead chega à perplexidade central do que define uma atividade como “criativa” e desafia as definições comuns, que não têm em conta o facto de que o que é considerado criativo difere frequentemente do que é meramente produtivo em grau e não gentil e está invariavelmente dependente do contexto e das circunstâncias. Ela examina como diferentes culturas conferem o estatuto de artista àqueles que fazem arte, ilustrando a natureza arbitrária destes rótulos tão frequentemente divorciados da natureza real da atividade criativa e do seu efeito final sobre o seu recetor:
Se tomarmos o conjunto de critérios tão frequentemente utilizados, o trabalho para ser criativo deve fazer algo novo e algo feito não deve ser feito com demasiada frequência, ou as palavras “repetitivo” e “pouco criativo” serão introduzidas. Cozinhar a refeição diária ao meio-dia é repetitivo, mas preparar alimentos especiais para um banquete é criativo. Esta distinção é agradavelmente confusa na casa do gourmet rico; a comida que é comida de feat para o homem comum torna-se comida diária para ele. O seu cozinheiro torna-se então um cozinheiro e um artista. A distância entre a casa de campo e o castelo transformou o trabalho de parto numa arte.
Ainda assim a ideia de algo feito novo, e raramente, repete-se ao longo de todas as dicotomias confusas e continuas de muitas civilizações. Entre um povo a ligeira decoração de cada porta pode ser um ofício, amplamente praticado, possivelmente lucrativo, ligeiramente honrado. Mas na tribo seguinte pode haver apenas um homem que tenha a habilidade e a vontade de pintar um único painel de casca de árvore com a sua versão das decorações da casa dos seus vizinhos. Ele não é um artesão; é antes um artista, ocasional e dolorosamente produzindo algo novo – novo para ele, e novo para os seus companheiros de tribos que se aglomeram à sua volta. Ou é possível introduzir a mesma ligeira sensação de distância e novidade por um dispositivo como o utilizado pelo Mundugumor da Nova Guiné, que tinha decretado que apenas uma criança masculina nascida com o cordão umbilical à volta do pescoço poderia ser um artista. Como a tribo era pequena, e não havia qualquer disposição para que cada criança masculina assim nascida fosse treinada como artista, no final haveria apenas um ou dois homens numa geração com o direito cultural de pintar um desenho sobre casca de árvore que poderia ter sido uma arte comum, praticada frequentemente e sem recompensa, entre uma tribo vizinha.

Ajuda-nos a manter viva e disponível a todos esta biblioteca.

Um século depois de Baudelaire argumentar que “todas as coisas belas têm um elemento de estranheza” e uma década após a sublime homenagem de Humphrey Trevelyan a Goethe e o “descontentamento divino” necessário para ser um artista, Margaret Mead escreve:
Gostaria de propor que olhássemos para este elemento de frescura, de novidade, de estranheza, como um fio ao longo do qual colocarmos as actividades do artista conscientemente criativo, o patrono e crítico consciente do artista criativo, e o homem comum – comum no sentido de que ele não tem uma parte especificada na criação ou na crítica. Se fizermos um critério para definir o artista (como distinto do artesão e do intérprete treinado mas rotineiro de dança, drama ou música) o impulso para fazer algo novo, ou para fazer algo de uma forma nova – uma espécie de descontentamento divino com tudo o que foi antes, por melhor que seja – então podemos encontrar tais artistas a todos os níveis da cultura humana, mesmo quando executam atos de grande simplicidade.
O Artigo: Legendary Anthropologist Margaret Mead on Work, Leisure, and Creativity, foi publicado em Brainpickings.org
The Post: Legendary Anthropologist Margaret Mead on Work, Leisure, and Creativity, appeared first on Brainpickings.org
Assinados por Artes & contextos, são artigos originais de outras publicações e autores, devidamente identificadas e (se existente) link para o artigo original.