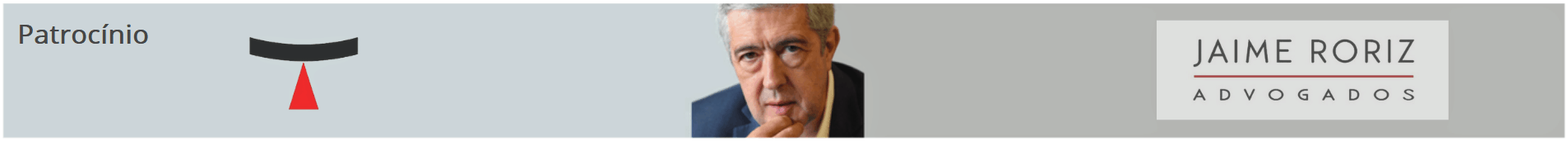Debaixo do Sol
Jovem guitarrista madeirense em processo de afirmação, André Santos começou por seguir os passos do irmão mais velho, o também guitarrista Bruno Santos. Passou pela Escola de Jazz Luiz Villas-Boas do Hot Clube de Portugal, frequentou a primeira licenciatura de Jazz na Escola Superior de Música de Lisboa e concluiu o mestrado no Conservatório de Amesterdão. Editou um original disco de estreia chamado “Ponto de Partida”, acompanhado por valores seguros da mais jovem geração do jazz nacional: Ricardo Toscano, João Hasselberg e João Pereira. Acaba agora de lançar um novo disco, “Vitamina D”, desta vez gravado em trio com parceiros internacionais: Tristan Renfrow (bateria) e Matt Adomeit (contrabaixo), com apresentação em concerto marcada para dia 10 de Setembro na Culturgest. Junto ao Rio Tejo, André Santos esteve à conversa com a jazz.pt sobre o seu percurso e a sua música.
Como começaste a tocar guitarra? O facto de teres um irmão mais velho guitarrista foi determinante?
Comecei a tocar porque o meu irmão andava lá por casa a tocar, tinha a guitarra à mão de semear e às tantas comecei a experimentar. Ainda não percebi porque virei a guitarra para o lado esquerdo, porque eu sou destro… Tenho uma teoria, que não sei se é bem verdade: eu via o meu irmão a tocar e acho que foi uma espécie de efeito de espelho. Por isso, sim, o meu irmão foi determinante. Comecei a partir dos 8 ou 9 anos a experimentar, com a guitarra para destro virada ao contrário, com as cordas ao contrário. Comecei a explorar o som e a fazer acordes de uma maneira “sui generis” – ainda hoje consigo fazer esses acordes de forma invertida! Mais tarde, aos 13 ou 14, pus as cordas de forma correcta e aí comecei a aprender mais algumas coisas. O meu irmão também me foi ensinando alguns acordes. Comecei a ter curiosidade para aprender músicas que ouvia em certos discos. Na altura eram coisas mais rock, ouvia os discos e tentava perceber aquilo que eles estavam a tocar. Claro que o meu irmão me influenciou bastante, ia dando dicas e dizia “vai explorar”, e também fui ouvindo a música que ele ouvia.
Como chegaste ao jazz e quais foram os primeiros discos que mais te marcaram?
Acho que a ponte que me fez chegar ao jazz foi a bossa nova. Pelos 10 anos recebi um “walkman” que tinha uma cassete de João Gilberto e lembro-me de andar viciado naquilo. Sabia as letras todas, as melodias, tudo e mais alguma coisa. Pelos 14, o meu irmão ofereceu-me alguns discos, lembro-me de um disco de Thelonious Monk com John Coltrane, “Live at Five Spot”, que não é necessariamente o melhor disco para uma pessoa que está a começar a ouvir jazz, mas aquilo despertou-me algum interesse. Por essa altura, vim a Lisboa ver um concerto do meu irmão no Hot Clube e fui à Fnac comprar uma data de discos, alguns aconselhados pelo meu irmão. Entre outros, comprei dois discos de Miles Davis, “Four & More” e “My Funny Valentine”, que devorei obsessivamente. Fiquei a conhecer os solos todos, ainda hoje me lembro de pormenores. Comprei também discos de Herbie Hancock, “Speak Like a Child” e “Maiden Voyage”. E lembro-me também de ter comprado um disco do Coltrane com Kenny Burrell, “Freight Trane”, que também me marcou muito. Fui ganhando esse gosto e fiquei com curiosidade para explorar esse mundo.
Como deste o passo seguinte e começaste a estudar música a sério?
Isto começou tudo na Madeira, como é óbvio, e quando tinha 19 anos entrei na universidade, lá na Madeira, em engenharia informática. No mesmo ano inscrevi-me também num curso do conservatório, que tinha uma parceria com o Hot Clube e os professores iam lá ao fim-de-semana. No ano anterior tinha começado a tocar mais ou menos a sério, já tinha um trio com Vânia Fernandes (cantora) e David Gouveia, que tocava piano. Era um trio em que experimentávamos “standards”. Entrei no curso de informática para deixar os meus pais descansados, mas a discrepância de entusiasmo entre esse curso e o do Hot ao fim-de-semana fez-me perceber que o que eu queria mesmo era tocar música. Passados uns meses deixei esse curso e no ano seguinte vim para Lisboa, porque era aqui que se passavam as coisas. Havia mais gente com quem tocar, havia o Hot Clube, havia muita coisa a acontecer que eu sentia que era importante para mim. Vim para Lisboa, estive dois ou três anos no Hot e depois abriu o curso superior na Escola Superior de Música de Lisboa. Entrei logo no primeiro ano e isso também foi importante, porque o nível era mais alto, havia uma selecção mais cuidada dos alunos. E como era o primeiro ano do curso, tive a sorte de ser colega de músicos como Jorge Reis, Tomás Pimentel, Claus Nymark. Partilhei o curso com essa malta, além do pessoal da minha geração.
E o que se seguiu após o final do curso?
Tive sempre os meus grupos, ia sempre tocando, sempre escrevi música e sempre quis experimentar as minhas coisas. O curso acabou em 2010/11 e em 2011 houve um ponto de viragem, porque foi a altura do Prémio Jovens Músicos, no qual participei num grupo com Ricardo Toscano no saxofone alto, João Hasselberg no contrabaixo e João Pereira na bateria – e ganhámos na categoria jazz. Li recentemente uma entrevista do Hasselberg onde ele diz que a iniciativa partiu de mim, mas na verdade a ideia foi de Ricardo Toscano, que me disse que estava a pensar concorrer ao prémio e que tinha pensado em mim e no Hasselberg. Ele perguntou-me quem é que eu sugeria para a bateria e eu falei no João Pereira, porque estava a aparecer e era um baterista com quem me identificava. Participámos, ganhámos e foi aí que senti, pela primeira vez, que tinha uma banda com quem podia tocar os meus temas. Continuámos e a certa altura eu senti que já tinha um leque de temas que merecia ser gravado, o que resultou no meu primeiro disco, “Ponto de Partida”.
Uma coisa repentina


Como foi surgindo o material para esse primeiro disco?
Fui sempre escrevendo temas, quer por iniciativa pessoal, quer como exercícios que os professores pediam. Comecei a experimentar todos os temas e fiz uma selecção, deixando cair alguns deles, pois já não faziam sentido… Às tantas percebi que tinha uns oito ou nove com os quais estava satisfeito e disse ao pessoal que estava a pensar gravar. Foi assim uma coisa mais ou menos repentina. A banda já estava rodada e gravámos tudo num único dia, em Setembro de 2013, no estúdio Timbuktu. Na altura da gravação também foi filmado um documentário, mas até agora ainda não saiu.
Depois foste para o Conservatório de Amesterdão. Qual foi a importância desta experiência?
Andava a tocar por aí, a minha música e as de outros grupos, e também a dar aulas, mas a certa altura senti que precisava de um abanão, de algo que me espevitasse. Decidi passar uma temporada focado no estudo e fui para Amesterdão. Fui fazer exame a Amesterdão, eles gostaram e fiquei lá cerca de dois anos. Fiz o mestrado e foi uma óptima experiência, porque conheci muitos músicos e aprendi com muitos professores diferentes. Foi uma experiência muito boa porque a cidade está sempre a fervilhar, há muitos músicos, muitos concertos, não só do pessoal dos meios académicos, mais ligado ao “mainstream”, mas também fora desse mundo, o pessoal mais ligado ao free, à improvisação, que também me interessa bastante. Tive oportunidade de ver bandas muito diferentes, com diferentes estilos e diferentes abordagens musicais.
Quem foram os músicos que mais te marcaram ao longo do teu percurso?
Numa fase inicial André Fernandes foi uma pessoa bastante importante. Para além de ser um músico que passei a admirar desde a primeira vez que o vi tocar, também se tornou num amigo e conselheiro. Um bocadinho mais tarde, outra pessoa importante foi André Matos, porque me mostrou uma forma mais livre de ver e de tocar a música. Na mesma linha, também Demian Cabaud e Gonçalo Marques foram importantes ao mostrarem-me uma maneira de ver a música sem preconceitos. Um outro músico muito importante para mim foi Tristan Renfrow, um baterista americano que vive em Amesterdão. Fui a uma “jam session” num barco (que é um bar) e um amigo meu, o guitarrista João Espadinha, disse-me: «Vais gostar deste baterista, ele é a tua cara.» Fiquei curioso e quando o vi a subir ao palco pensei: «Vou subir também.» Tocámos um tema e senti logo uma química brutal, senti que ele ia dar sentido a qualquer coisa que eu tocasse na guitarra. E isso é uma sensação fantástica, estás a tocar com uma pessoa com quem podes fazer o que quiseres, que não vais ser julgado, vais só ter alguém que te vai ajudar e, ao mesmo tempo, te vai espicaçar. Quando toquei com ele pensei logo: «Quero tocar e gravar com este baterista, de certeza absoluta.»
Lá em Amesterdão tive a oportunidade de estudar com muitos professores de guitarra, em cada semestre havia um professor diferente e isso é bom, porque cada um deles tinha abordagens completamente distintas. Os três principais foram Jesse van Ruller, Maarten van der Grinten e Martijn van Iterson. E também tive oportunidade de estudar com músicos mais novos, como Reinier Baas e Matīss Čudars, um músico mais ligado à cena experimental, noise, free jazz… Outra pessoa muito importante foi o pianista Harmen Fraanje. Com ele era suposto ter sido apenas aulas de improvisação, mas começou a pedir-me para levar alguns temas originais. Ele também levou temas seus, e de repente as aulas passaram a ser tocarmos em conjunto. A certa altura ele disse que tínhamos um bom som juntos e falou na possibilidade de formarmos um projecto. Como é um músico que admiro imenso, fiquei entusiasmado com a ideia. Embora ainda não tenha acontecido, estou a pensar trazê-lo cá a Portugal para darmos uns concertos e passarmos uma temporada a trabalhar na música. E isso vai acontecer, não posso deixar escapar esta oportunidade!
Concluíste o mestrado com a tese “Chordophonia: A New Repertoire for Braguinha, Rajão e Viola d’Arame”. Porque escolheste abordar estes cordofones madeirenses?
Esta ideia vinha de há já algum tempo, de uma necessidade de conhecer melhor a cultura das minhas origens. Desde sempre que estudei a música brasileira, o jazz, andei a conhecer a origem destas músicas e de repente percebi que não conhecia quase nada da música tradicional madeirense. Sabia que existem estes instrumentos tradicionais madeirenses, estes três cordofones que são uma parte muito importante da cultura e da tradição madeirenses. Como sou guitarrista, tenho curiosidade por instrumentos de corda, por outras afinações, e senti que tinha de fazer alguma coisa com esses cordofones. Tinha de escolher um tema para a tese de mestrado em Amesterdão e pensei nesse. Pensei em adaptar algum repertório à guitarra, ou transferir algumas técnicas para a guitarra, ou vice-versa. Mas isso também não me interessava muito, adaptar temas de jazz para a braguinha ou a viola d’arame não me atraía. Primeiro comecei por estudar as origens, de onde vieram, para onde foram. Descobri que a braguinha e o rajão são os pais do ukelele. Para além de estudar a história, percebi que havia falta de repertório especificamente escrito para esses instrumentos. Pensei: se não há repertório, vou compor peças para estes instrumentos, uma ou duas peças para cada instrumento.
E assim fiz, depois de estudar a história comecei a explorar os instrumentos. Ainda hoje não os domino muito bem, porque têm afinações ligeiramente diferentes e as primeiras abordagens foram mais intuitivas: pegar nos instrumentos e improvisar um bocado. Comecei a construir temas a partir daí. Depois as pessoas mostraram interesse nesses instrumentos e ainda recentemente participei numa sessão intercultural, numa residência artística com uma data de músicos do Mediterrâneo, num festival em França, em Aix-en-Provence, onde toquei esses cordofones. São instrumentos com que quero continuar a trabalhar e a explorar.
Mas depois voltar


Na fase final do mestrado foste passar uma temporada a Filadélfia. Como é que isso aconteceu?
O Conservatório de Amesterdão tem um protocolo com escolas americanas e fui para a Temple University, em Filadélfia, uma escola que está mais ligada à tradição jazzística. Há lá muitos músicos históricos, muitos deles ligados à orquestra do Village Vanguard. Também tive aulas com Dave Wong, o contrabaixista que toca com Roy Haynes, com os Heat Brothers… Tive muitos professores ligados à tradição, ao “swing”, ao “groove”, e isso foi igualmente bom. Mas a parte mais interessante para mim foi o facto de Nova Iorque ficar a duas horas e de ter lá muitos amigos – André Carvalho, André Matos, Sara Serpa, Gianni Gagliardi. Fui lá muitas vezes e foi incrível estar em Nova Iorque, todos os dias há cinco ou seis concertos interessantes para ver, seja de free jazz ou de jazz mais tradicional, seja de rock, de “indie”…
Também tentei arranjar alguns concertos, para sentir como era a cena de lá, e tive oportunidade de tocar com alguns músicos que admiro. A coisa incrível de estares em Nova Iorque é que tens ali à mão todos os músicos que ouviste nos discos! A certa altura arranjei uns concertos, queria tocar com André Carvalho e com um baterista que admirasse. Lá, a maior parte da malta está à distância de cem dólares. Dizes: «Tenho um “gig” aqui e tenho cem dólares para te pagar se tocares comigo.» Se, à partida, não fores um grande cepo, se tiveres algo interessante em ti, eles vão dizer que sim. Andava a ouvir um disco de Jacob Sacks com Masa Kamaguchi e Vinnie Sperrazza e pensei: «Adorava tocar com este baterista.» Mandei-lhe um “email” e ele respondeu logo: «Bora aí.»
Tive uns três ou quatro concertos em Nova Iorque, todos com o Vinnie. Depois tive também um concerto com Chris Cheek, mas aí a abordagem foi diferente. Tive umas aulas com ele, que foi basicamente tocar e falar um pouco de improvisação, e depois disse-lhe: «Tenho um concerto daqui a duas semanas, queres participar?» Ele disse que sim e lá fomos tocar. Por um lado foi incrível tocar com essa malta, mas por outro essa experiência deu-me a certeza de que não queria viver ali. Adoro a música, mas não o suficiente para abdicar da qualidade de vida. As rendas são altíssimas e os concertos não são bem pagos… Para mim só funciona desta forma: passar lá uma temporada, beber aquela influência toda, mas depois voltar.
Pela tua música percebe-se que vais buscar influências musicais díspares. Que música gostas de ouvir?
Sou muito disperso a ouvir música. Acho que isto tem a ver com o tempo em que vivemos, pois está tudo à mão de semear. Gosto muito de música brasileira, não só da bossa nova como de compositores mais contemporâneos, Guinga, Toninho Horta… Tanto posso gostar de Derek Bailey a fritar o miolo, como posso gostar de João Gilberto a cantar uma bossinha ou de Jim Hall a tocar uma bela melodia…Mas também gosto de outras coisas. Por exemplo, há um mês andei viciado no disco das Pega Monstro. Já as conhecia: elas foram ao Funchal tocar e adorei o concerto, comprei o disco e andei obsessivamente a ouvi-lo! Outro músico de que gosto muito é Nick Drake, numa onda mais folk. No jazz mais moderno gosto de guitarristas como Marc Ribot e Ben Monder. E na música portuguesa gosto muito de Sérgio Godinho e Fausto… São coisas muito diferentes, mas todas elas me tocam. Dantes pensava que o facto de gostar de coisas tão diferentes poderia ser um problema, mas já percebi que isso até pode ser uma vantagem.
Tens um novo disco, gravado em trio com Tristan Renfrow e Matt Adomeit chamado “Vitamina D”. Porquê esse título? O que tem este disco de novo, em comparação com o anterior?
Antes de mais, o disco chama-se “Vitamina D” porque os temas foram escritos no meu primeiro Inverno em Amesterdão. Estava a bater mal com o facto de não ver este céu, e às tantas uma pessoa acorda meio desmotivado, sem vontade de fazer nada e de repente percebes que é isso: falta de sol, falta de vitamina D. Pelo menos para mim, que estou habituado a este bom tempo. Musicalmente, neste disco há uma fusão de estilos, tal como no primeiro, mas desta vez de forma mais acentuada e sem preconceitos. Uma peça fundamental é o Tristan, o baterista. Como já te disse, posso tocar o que quiser que ele vai dar sentido àquilo que eu fizer, e isso dá-me muita liberdade. Mas ele também é um baterista meio louco, também puxa para outras direcções, também me dá “pontapés no rabo” e me leva para outros sítios! Quis escrever música que pudesse tirar partido do que ele me desse. Neste disco há influência do rock, há free jazz, há temas mais calmos. É um disco que vai um bocado aos extremos, que me leva a abraçar a minha bipolaridade musical. Acho que é um disco, mais forte do que o primeiro, com mais maturidade.
Voltaste a tocar com o quarteto que venceu o Prémio Jovens Músicos (Toscano, Hasselberg e Pereira) no Hot Clube e no Bicaense tocaste com o mesmo grupo base, mas com um baterista diferente, Alexandre Frazão. Vão voltar a tocar juntos ou estes foram só concertos pontuais?
Basicamente isso surgiu no Facebook. Apareceu uma daquelas notificações de uma foto antiga nossa, o pessoal começou a comentar e decidimos que devíamos retomar o grupo. Não sabemos bem se vai ser uma cena regular, mas gostamos muito de tocar uns com os outros, por isso volta e meia isto vai acontecer. Falei com Luís Hilário, do Hot Clube, marcámos uma data, mas desta vez achámos que não devíamos tocar só os meus temas, mas fazermos uma coisa diferente. Agora o Hasselberg compõe, o João Pereira compõe, o Toscano também já começou a compor… Fazia sentido experimentarmos isso, tocar um repertório diferente. Quanto ao concerto no Bicaense, infelizmente o João não podia ir e chamei Alexandre Frazão, porque já há algum tempo que desejava tocar com ele.
A mesma coisa diferente


Tens um projecto bastante original, um duo com o teu irmão Bruno Santos, chamado Mano a Mano. Como nasceu esta ideia?
O projecto nasceu em casa! Começámos a tocar juntos lá em casa e no início eu fazia alguns acordes enquanto ele treinava umas improvisações… Depois começámos a tocar “standards” e a coisa foi evoluindo, pois temos uma boa química e uma visão musical idêntica.
Mas vocês exploram músicas diferentes e os vossos discos reflectem isso…
É verdade. No meu exame final em Amesterdão toquei uma parte com o meu irmão e outra parte com o meu grupo. No final, Tristan Renfrow disse uma coisa curiosa sobre o Mano a Mano: «Vocês tocam a mesma coisa mas com palavras diferentes.» Temos um “background” parecido, ouvimos coisas semelhantes e achei curiosa essa afirmação, com a qual concordo. O conceito do grupo é tocarmos as canções de que gostamos. Tocamos à vontade um com o outro, percebemos as opções que cada um toma no momento e temos muita liberdade. O duo surgiu no momento em que comecei a conseguir acompanhar o meu irmão e o nosso primeiro “gig” foi no Bacalhoeiro. Um dos primeiros concertos foi gravado, nós ouvimos e percebemos que aquilo tinha pernas para andar. Gravámos o disco em 2014 e este é um projecto que vai continuar, por razões óbvias. Damo-nos bem tanto pessoalmente como musicalmente e acho que temos mesmo uma química especial. E ainda por cima tocamos cada um com a guitarra para o seu lado. As guitarras fazem um “V” em palco – esteticamente fica bonito! Só vantagens…
Estás envolvido em mais projectos como líder?
Tenho um duo com a cantora Margarida Campelo, maioritariamente de música brasileira. Este é um projecto mais descomprometido e com a Margarida também tenho uma química especial.
E como “sideman”, com quem tens tocado?
Gravei com Gonçalo Marques e toco muitas vezes com ele. Também toco frequentemente com Demian Cabaud… Agora gravei com Lars Arens, um projecto novo que é a L.A. Banda Larga, uma orquestra. Também gosto muito de tocar em duo com músicos que admiro, que é uma forma muito directa de comunicar. Em Janeiro vou estar com Maria João em duo no Funchal. Enfim, vou tendo uns projectos aqui e ali.
Quais são os objectivos a longo prazo que gostarias de ver concretizados?
Ajuda-nos a manter viva e disponível a todos esta biblioteca.

Agora quero furar mais o circuito de auditórios e festivais e quero também tocar mais na Europa. Muitas vezes é fácil ficarmo-nos pelo circuito dos bares, onde é relativamente fácil entrar e dá dinheiro rápido. Não é preciso trabalhar muito num projecto, basta juntar uma malta e começar a tocar, mas há tendência para ficar por aí e não pensar a longo prazo. Isto é uma coisa que já estou a fazer e quero continuar. De resto, quero continuar a tocar com músicos que me desafiem e que eu admiro, com projectos que me ensinem alguma coisa. E há também a questão dos cordofones madeirenses, que é uma área que quero continuar a explorar. Sou um madeirense orgulhoso das minhas raízes e quero ver como posso contribuir com a minha musicalidade e a minha visão da música.
O Artigo: Debaixo do Sol, foi publicado em Jazz.pt
The Post: Debaixo do Sol, appeared first on Jazz.pt
Assinados por Artes & contextos, são artigos originais de outras publicações e autores, devidamente identificadas e (se existente) link para o artigo original.